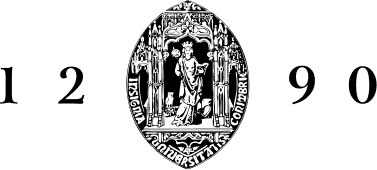Transmédia como um vetor para a comunicação de ciência e promoção da literacia em saúde é o tema do projeto de investigação de João Cardoso, estudante do Doutoramento em História das Ciências e Educação Científica do Instituto de Investigação Interdisciplinar, orientado por Sara Varela Amaral, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC), e coorientado por Nuno Coelho, do Departamento de Engenharia Informática (DEI) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), e por Tetsu Kondo, da Universidade Politécnica de Tóquio. Estivemos à conversa com o doutorando sobre os desafios de comunicar ciência de forma atrativa e também sobre os desafios de construir um projeto de investigação que coloca em diálogo a cultura portuguesa com a cultura japonesa.
Este projeto de doutoramento surgiu muito por acaso e tem até uma história engraçada. Numa noite, vi um filme de animação que me fez pensar que seria um bom vetor para pensar como se transmite informação através de uma animação na comunicação de ciência. E foi assim que comecei a explorar um pouco a comunicação de ciência através de novas ferramentas e de novos meios e materiais multimédia. Tendo em conta que sempre gostei muito de promover e de fazer comunicação na área da saúde, para que as pessoas possam ser mais entendidas nesta área, foi assim que nasceu este projeto, que tem como objeto de estudo a promoção da literacia em saúde e o desenvolvimento de novos materiais multimédia com recurso a transmédia. Este termo traduz-se na utilização de diferentes canais, de diferentes formas multimédia, que são complementares, para contar uma história. Esta prática já é utilizada em outras áreas, como no cinema, mas para fins de comunicação de ciência nunca foi muito explorada.
Os indicadores de literacia em saúde em Portugal são baixos – como são também no Japão, um dos casos que também vou estudar – quando comparados com outros países europeus. E é muito importante que a sociedade esteja bem informada sobre a saúde e as diferentes tecnologias, principalmente numa altura em que vivemos uma pandemia, em que surgem muitas questões relacionadas, por exemplo, com as vacinas ou com os sintomas da doença. A comunicação de ciência surgiu como uma prática profissional porque os investigadores têm uma linguagem muito própria, muito científica, muito complicada e a sociedade, que gostaria de participar nestas discussões científicas ou de entender a linguagem, tem também a sua própria linguagem. E, por vezes, há quase uma perda na tradução entre as duas linguagens. Por um lado, há a dificuldade de os investigadores terem ferramentas ou terem um “dicionário” sobre como comunicar bem com o público; por outro lado, temos a dificuldade de a sociedade conseguir entender a linguagem quando está exposta a diferentes formas de comunicação de ciência. E, portanto, é necessário um esforço das duas partes. Por isso, é preciso aproximar ciência e sociedade ainda mais, particularmente a literacia em saúde, porque é um tema que nos toca a todos.
Importa desde logo referir que o meu projeto tem como base a promoção de literacia em saúde não só em Portugal, como também no Japão. Sempre tive uma curiosidade muito grande em torno da cultura japonesa e quando comecei a estudar japonês aqui na Universidade de Coimbra (UC) descobri que Portugal e Japão têm uma ligação histórica muito profunda. E assim fui percebendo que seria possível juntar neste projeto duas culturas diferentes para estudar e promover a literacia em saúde. Neste contexto, o principal objetivo do projeto, é, muito resumidamente, contribuir para a promoção da literacia em saúde. E como o vamos atingir? Estamos, neste momento, a desenvolver materiais multimédia ao abrigo de um projeto financiado pelo Centro Ciência Viva, chamado A Saúde no Saber, que visa promover a literacia em saúde através de uma campanha nacional. Com base no que temos conseguido fazer para promover os diferentes temas que são investigados no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra vamos partir depois dos conhecimentos que estas animações nos vão permitir obter e vamos aplicá-los em duas culturas diferentes. Assim, vamos conseguir perceber quais é que são os pontos culturais comuns entre Portugal e Japão e quais é que são os défices mais agravantes no que toca à literacia em saúde. E se conseguirmos que a linguagem científica seja comum entre duas culturas diferentes estamos a contribuir para que a ciência possa ter uma linguagem global.
Gostaria, desde logo, que grande parte dos materiais de comunicação de ciência não fossem só utilizados para fins de investigação, para fins expositivos muito breves, mas que abrissem portas a novas investigações sobre transmédia em diferentes culturas. Gostava muito que este projeto abrisse caminho nesta área, porque não é uma área muito explorada. Espero que este projeto de investigação seja capaz de explorar e inovar a comunicação em ciência, principalmente a promoção da literacia em saúde, e também que seja capaz de tornar a ciência numa conversa mais aberta, dando novas ferramentas aos investigadores para que consigam ser mais participativos na comunicação de ciência e também contribuindo para que a sociedade seja mais recetiva à participação em temas do foro científico. Pretende-se também contribuir para estimular um espírito crítico das pessoas, para que, por exemplo, as pessoas não partilhem desinformação e pesquisem sempre mais. E ao desenvolvermos materiais que procuram simplificar a linguagem científica estamos a contribuir também para que as pessoas recorram a esses materiais para se esclarecerem sobre a ciência.
Neste momento estou a coproduzir as animações com uma colega de Mestrado do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e o que está a ser produzido está a ser disseminado para, numa primeira fase, perceber como é que as pessoas retiram informação destes conteúdos. Está a ser feita avaliação qualitativa nos meios onde estes conteúdos são disseminados. Atualmente, a informação está a ser disseminada em redes sociais e esperamos que, no futuro, venha a ser divulgada em canais por todo o país. Para analisar o conhecimento que as pessoas adquirem estamos a realizar questionários, trabalho que está a ser feito com pessoas de faixas etárias entre os 15 anos e até mais de 65 anos. Depois desta fase, decorrerão as sessões de avaliação de impacto, em que irei a escolas secundárias, empresas, universidades e universidades sénior para fazer uma exposição dos materiais e a realização de questionários antes e depois de os conteúdos serem exibidos. No caso do trabalho no Japão, ao nível de técnicas, será feita avaliação correlacional através de grupos focais e entrevistas semiestruturadas. Estas técnicas de pesquisa serão aplicadas para que se perceba quais é que são os temas de investigação na área da saúde que são mais sensíveis e quais são os temas de maior interesse para as duas culturas.
Esta colaboração surgiu porque dentro do projeto A Saúde no Saber, que anteriormente já referi, surgiu a possibilidade de propormos um estágio para o mestrado em Design e Multimédia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra para a produção de animações para o projeto. Toda a produção de animações é feita em regime de coprodução com vários investigadores e teve início na Rádio Universidade de Coimbra, em que foi lançado um desafio para que os cientistas respondessem, em dois minutos, a mitos relacionados com os seus temas de investigação em áreas como infertilidade, cancro, sono, sistema imunitário, autismo, doenças neurodegenerativas, doenças raras, microbiologia, nutrição e desenvolvimento neuronal. A partir destes contributos, eu e a Carolina Simões selecionámos, na transcrição das rubricas, as informações chave para construir uma animação com cerca de um minuto e meio e depois reunimos com os investigadores para apresentar uma proposta de abordagem ao tema já de forma esquematizada. Neste processo, eu e a estudante de mestrado discutimos ideias para o storyboard e fomos desenvolvendo em parceria, também com o apoio dos investigadores, todos os materiais.
No caso do meu projeto, tentei juntar os meus interesses profissionais e pessoais num projeto de investigação. Muitas vezes é difícil definir este ponto de encontro entre o que é relevante para o conhecimento científico e o que gostamos de fazer. Quando estamos a escrever um projeto de doutoramento que representa um compromisso de três/quatro ou, por vezes, mais anos, tem que se pensar em algo de que realmente se goste. E um doutoramento é um investimento pessoal tão grande e um dos riscos é desenharmos um projeto de investigação com o qual não nos identificamos. Neste contexto, uma das principais dificuldades é conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre algo que fomente novo conhecimento, mas que seja, em simultâneo, prazeroso. Há também outras questões mais complexas, nomeadamente a análise da literatura que é sempre algo muito difícil de fazer e que exige muito trabalho e também o estabelecimento de colaborações corretas para que o projeto seja exequível. Neste momento, considero que sou um sortudo por ter conseguido encontrar o equilíbrio entre o que gosto de fazer e o que é importante investigar.
Não, de todo. Sempre tive muitas opções de carreira que gostaria de seguir. Pensei em ingressar em Medicina e não sendo possível acabei por ingressar na Licenciatura em Biologia na Universidade de Coimbra. E ao longo do curso fui percebendo que, de facto, investigar vida era algo que gostava de fazer. Depois ingressei no mestrado em Biologia Celular e Molecular também na UC e a minha tese foi sobre o tema Síndrome de Fígado Gordo Não-Alcoólico. Durante o mestrado, comecei a participar em atividades e iniciativas do Gabinete de Comunicação de Ciência do CNC, fui também finalista de um concurso nacional de comunicação de ciência, o FameLab, e foi assim que o bichinho foi crescendo, com a vontade de sair do laboratório e de partilhar a investigação com as pessoas. E nesta área sempre gostei de trabalhar com os media, principalmente com os novos media, e quando comecei a fazer produção multimédia percebi qual era o rumo que queria seguir: trabalhar com televisões, trabalhar com entretenimento e juntá-lo à ciência é, de facto, aquilo que quero fazer. Agora que olho para trás, há 7 anos não conseguiria imaginar que estaria a trabalhar nesta investigação. E, por isso, gostaria de reforçar que não há nada que esteja completamente definido, temos sempre a possibilidade de mudar de ideias para seguirmos aquilo que nos dá mais gosto de fazer.
A primeira vez que fiz comunicação de ciência foi num projeto do Gabinete de Comunicação de Ciência do CNC que consistia em levar ciência à rua. No âmbito deste projeto, estivemos na Praça 8 de Maio, em Coimbra, e tive a oportunidade de contactar com diversas pessoas para falar sobre ciência e soube-me muito bem falar sobre algo que tinha estudado e sentir que as pessoas estavam felizes em perceber mais sobre ciência. Foi naquele momento que comecei a perceber que gostava imenso de comunicação de ciência e que esta área tinha potencial para ser uma opção de carreira. Participar no concurso FameLab, que já mencionei anteriormente, em que tive que falar sobre dois temas científicos em três minutos, construindo para isso apresentações que fossem acessíveis a todos, foi algo que me deu muito gosto de fazer. E acho que foi no momento da participação no concurso que percebi que seria algo que gostaria mesmo de fazer.
Durante a pandemia, vi muitos timings do projeto a serem adiados. E pode ser desanimador ver estes adiamentos. O que me deu algum alento neste processo foi perceber que, ainda que seja importante ter deadlines, é importante não deixar que eles nos dominem e, para isso, precisamos de tornar o projeto maleável. Claro que, por vezes, custa ver que não temos os resultados esperados em determinada altura do projeto, mas a ciência também é feita de resultados que não são os esperados. Mesmo que os resultados não estejam tão próximos do que esperávamos, é importante que a comunidade científica saiba que o que tentámos não funcionou, para que se perceba o que não resulta e para que se encontrem novos caminhos. Para quem se está a sentir desanimado, gostaria de dizer que nem tudo tem de ser um mar de rosas e que é normal que nem tudo corra como foi desenhado. Para quem está a desenhar um projeto de investigação, a minha dica é que façam algo que seja 50% inovador e 50% baseado na revisão da literatura. E, para isso, devemos perceber o que foi feito, como se atingiram determinados resultados e pensar em fatores de inovação.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Paulo Amaral, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 18.05.2021