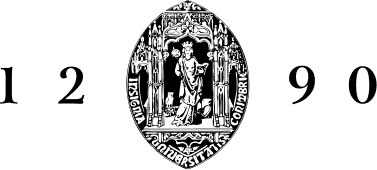Como será a cidade ideal? Uma nova proposta para analisar a sustentabilidade e a resiliência das nossas cidades
Como será a cidade ideal para viver? Com mais espaços verdes? Com mais vias pedonais e ciclovias e menos carros? Os gostos são muitos e as soluções também são várias, e as cidades portuguesas continuam, todos os dias, a pensar e a avaliar o seu planeamento. Foi com o objetivo central de pensar uma cidade mais resiliente, sustentável e equitativa que foi desenvolvida a tese de doutoramento Forma e função: avaliação de cidades reais e ideais. Esta investigação, da autoria de João Monteiro – orientada pelo docente do Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra (INESC Coimbra), João Coutinho , e pelos investigadores do INESC Coimbra, Nuno Sousa e Eduardo Natividade – procurou contribuir para o desenvolvimento de indicadores e metodologias (no fundo, ferramentas de apoio à decisão) para analisar o desempenho das nossas cidades, em dimensões como a acessibilidade, a repartição modal ativa, o consumo de energia nos transportes, ou a agradabilidade urbana. Nesta entrevista, o estudante do Programa Doutoral em Planeamento do Território (curso que resulta de uma parceria entre as Universidades de Coimbra e do Porto) revela as mudanças que podem impactar as cidades portuguesas, em particular Coimbra, e como estas mudanças podem contribuir para o bem-estar de todas as pessoas e do ambiente.
O objetivo passa por desenvolver novo conhecimento, mas também novas ferramentas de apoio ao planeamento, de modo a criar cidades mais sustentáveis, resilientes e equitativas. As nossas cidades estão a passar por uma transformação gigante. Nas últimas décadas, o desenvolvimento foi em prol do transporte motorizado e acabámos por perceber que isso não é solução. Temos de investir em infraestrutura ativa, temos que promover a bicicleta, temos que promover os modos pedonais. E a minha tese tem por base esta ideia e, por isso, tenho procurado produzir conhecimento e ferramentas que contribuam para tornar as nossas cidades naquilo que realmente queremos que elas sejam: cidades para as pessoas.
Ao longo do último século, foram desenvolvidas muitas ideias para as nossas cidades: muitas delas foram esquecidas e apareceram novas propostas. E o trabalho de investigação nesta área deve passar por revisitarmos estas propostas, perceber o que falhou e quais as ideias que continuam a fazer sentido. No passado, as nossas cidades foram pensadas tendo por base o modo pedonal, porque não havia carros. Por exemplo, se formos à Alta de Coimbra, as ruas são estreitas e pequenas porque foram pensadas para serem percorridas a pé. Não eram feitas grandes avenidas porque não havia carros. Mas assim que apareceram os carros, foram criadas avenidas como a Sá da Bandeira ou a Fernão de Magalhães. E agora queremos voltar atrás. Neste contexto, a parte teórica da tese baseou-se em descobrir o que existia na literatura sobre o tema, em busca de pistas para dar resposta aos problemas da atualidade.
Do ponto de vista prático – e sendo eu e a equipa que me orientou da área da Engenharia Civil – procurámos apresentar algo que fosse, de facto, útil. Nestes trabalhos de investigação, não devemos desenvolver uma metodologia que depois acabe por ser extremamente complexa e que não possa ser replicada, por exemplo, pelos nossos municípios ou pelas nossas autoridades regionais. As propostas têm de ser replicáveis: é preciso desenvolver ferramentas que permitam chegar a conclusões, que permitam avaliar o desenho urbano de forma correta.
Começaria por sublinhar uma ideia que é importante para entender a nossa proposta, que teve como grande caso de estudo a cidade de Coimbra. Existe uma ideia de que em Coimbra não dá para andar de bicicleta, mas é mentira. É possível andar de bicicleta. Aliás, em termos de distâncias, podemos aumentar o potencial ciclável de Coimbra e os modos ativos – ou seja, ciclável mais pedonal – em 2,5 vezes. Existe esse potencial e isto significa colocar Coimbra ao nível das atuais melhores cidades europeias em termos de mobilidade sustentável. E tal ainda não acontece porque faltam soluções, nomeadamente vias para este fim, que permitam encurtar as distâncias. Por exemplo, se eu viver nos Carvalhais, não consigo chegar, neste momento, nem a pé, nem de bicicleta, ao centro da cidade percorrendo uma curta distância. Por mais voltas que dê, teria de fazer 10 ou 15 quilómetros e dar uma volta gigante.
Coimbra tem potencial para aumentar os modos ativos. E o que é que é preciso? É preciso infraestrutura, que seja feita de forma pensada e adequada, e é preciso a promoção do uso da bicicleta. Isso é muito importante: é necessário convencer as pessoas a andar de bicicleta. E não é fácil. Dando um exemplo mais concreto sobre a dificuldade de fazer isto: Amesterdão demorou mais de 30 anos a conseguir o sistema que tem. Ou seja, não podemos achar que vamos construir umas ciclovias, como as que temos em Coimbra, e que de repente tudo muda. Não muda. Para que algo mude, é preciso insistir com as pessoas, é preciso ir às escolas e às instituições de ensino superior falar sobre o tema, é preciso criar sistemas de fácil acesso, tal como o que aconteceu em Aveiro, que criou a BUGA - Bicicleta de Utilização Gratuita de Aveiro. Esta mudança exige um comprometimento ao longo dos anos. E se fizermos isso na nossa cidade, Coimbra pode alcançar, como já referi, um potencial ciclável 2,5 vezes maior do que tem agora.
Outra das propostas que apresentamos na tese está relacionada com o preenchimento dos espaços vazios da nossa cidade. Coimbra é um bom exemplo, mas em qualquer cidade do país existem espaços vazios. Se preenchermos os espaços da nossa cidade, temos resultados incríveis. E quando digo preencher espaços não quero dizer construir lá casas: significa dar uso aos solos. Pode ser um parque verde, pode ser um supermercado, pode ser um equipamento desportivo, como o Complexo Desportivo Integrado e Centro Olímpico de Ginástica de Coimbra, que vai ser criado no Vale das Flores. Se, a pouco e pouco, consolidarmos a nossa cidade, preenchendo os espaços vazios, podemos ter uma redução de energia de quase 75% em termos de transportes, públicos e privados, o que seria uma diferença enorme. Ao “compactarmos” a cidade, vamos fazer com que tudo esteja mais perto das pessoas, o que levará à redução da utilização de transportes, sobretudo individuais.
Estas são as duas grandes conclusões práticas apresentadas na tese. Claro que por trás destas propostas existe uma metodologia, de natureza quantitativa, que permite aos municípios e outras entidades públicas não só perceber o estado atual das cidades, como também estudar cenários para implementar mudanças. Ou seja, criámos ferramentas de apoio à decisão, para que sejam tomadas de forma consciente e com base em factos.
Foram analisados e criados três principais indicadores: a acessibilidade, a repartição modal ativa e o consumo de energia nos transportes, que fui abordando na resposta às questões anteriores. Mas há mais, como o uso misto do solo, que tenta perceber se o uso do solo está a ser feito de forma correta ou não.
Um bom exemplo é o Polo II, uma zona que só tem um uso, maioritariamente para fins educativos. E o que é que esta utilização única provoca? Entre muitas outras coisas, provoca insegurança, porque a partir das 21 horas ninguém quer vir para o Polo II. Se aplicarmos, por exemplo, o conceito da cidade dos 15 minutos (que passa por ter, a uma distância de 15 minutos e preferencialmente a pé, espaços verdes, comércio e serviços essenciais) ao atual Polo II não chegamos a praticamente lado nenhum que não sejam as instalações para aulas e investigação e algumas habitações. O mesmo acontece com o iParque. E isto também sucede de forma inversa, em zonas apenas residenciais: de manhã, as pessoas saem para trabalhar e, durante o dia, a zona fica deserta. Se tivermos um uso misto do solo isso permitirá criar uma sensação de comunidade, além de facilitar os acessos.
Outro indicador, também muito interessante, é a agradabilidade urbana, que passa por criar cidades com as várias dimensões que já referi, mas de uma forma agradável, em que os espaços não estejam, digamos assim, em cima uns dos outros, e que sejam agradáveis para as pessoas. Para pensar este indicador, e no âmbito da tese, realizei também um inquérito, a nível mundial, para perceber o que é que torna o espaço urbano agradável para as pessoas através de perguntas como: Gosta de áreas verdes? Se sim, grandes, pequenas, médias? Quer arruamentos largos ou estreitos? Sobre a distância do edificado, quer viver perto dos vizinhos ou quer estar numa casa mais isolada? Este indicador já foi abordado na literatura de forma qualitativa, mas nunca quantitativamente. Por isso, desenvolvi uma metodologia que permite analisar de forma qualitativa a beleza das cidades.
Todas estas questões devem estar na base do planeamento municipal, que pode ser alterado. Se as pessoas gostam mais de áreas verdes, então quantas mais áreas verdes tivermos melhor. Se as pessoas preferem arruamentos mais largos, então vamos primar por arruamentos mais largos, mas não numa tentativa de meter carros de um lado e do outro. Curiosamente, um dos fatores que influenciou muito a interpretação da largura dos arruamentos é a perceção das mulheres em termos de segurança, porque os arruamentos mais estreitos, mais vazios, levam as mulheres a sentirem-se mais inseguras. Numa rua larga, há sempre aquela perceção de que haverá sempre alguma coisa a acontecer: há carros a passar, há pessoas a andar de bicicleta, há prédios, etc.
Entrei para Engenharia Civil em 2011, um bocado ao acaso. Quando fiz a escolha do curso, atirei uma moeda ao ar porque estava indeciso entre dois cursos e calhou o outro curso – Gestão –, mas não consegui entrar e, por isso, acabei por ingressar em Engenharia Civil.
Demorei alguns anos a terminar o curso, porque só defendi a dissertação de mestrado em 2019, ou seja, demorei oito anos. Gosto de partilhar esta história, porque mostra que os percursos sinuosos não são o fim de uma carreira. No semestre passado, uma rapariga estava a fazer um exame, que correu mal, e encontrei-a a chorar. Disse-me “já falhei três cadeiras, vou perder oportunidades”, ao que eu respondi “demorei oito anos para acabar o curso e, no primeiro ano, fiz duas cadeiras de treze, e estou aqui”. Por isso, gosto sempre de sublinhar: não pensem que as oportunidades desaparecem por causa dos percalços do curso e não pensem que não têm valor só porque as coisas não estão a correr bem. Às vezes, só precisamos de encontrar um tema que, de facto, nos atraia. E foi isso que aconteceu comigo.
Quando comecei o curso, gostava muito da área de hidráulica (hidrologia, barragens, etc.), mas rapidamente percebi que não me interessava assim tanto. Comecei, então, a gostar da área de urbanismo, quando frequentei as primeiras unidades curriculares de urbanismo e de transportes. E foi aí que o meu percurso académico mudou: deixei de ser a pessoa que falhava várias disciplinas e passei a ser uma pessoa interessada, que, no último ano do curso, quando escolhi a área que gostava, entrou no top 3% dos melhores alunos da Universidade de Coimbra. Posso dizer que me apaixonei mesmo pela área.
Depois de começar a trabalhar com os meus orientadores na dissertação de mestrado, percebi que gostava mesmo de investigação e gostava de continuar este caminho. No mestrado, trabalhei a temática do uso da bicicleta. No doutoramento, decidi apostar num trabalho mais abrangente, sobre os modelos clássicos do urbanismo e o desenvolvimento ferramentas para melhorar a vida nas nossas cidades, como já expliquei.
Os orientadores são muito importantes neste percurso. Isto porque um bom tema de investigação rapidamente se pode tornar num pesadelo se formos mal orientados. E, por vezes, os temas que nos parecem, à partida, pouco interessantes podem transformar-se numa boa área de investigação se estivermos todos – o estudante e a equipa de orientação – a remar no mesmo sentido.
Também diria que devemos ser pacientes. Fazer uma tese não demora um mês, nem dois, demora, por norma, três ou quatro anos (ou até mais, em alguns casos). E, durante este tempo, é normal tropeçar, é normal chegar ao fim de três meses de trabalho e perceber que as contas que estávamos a fazer ou a metodologia que estávamos a aplicar afinal estão erradas. Isso aconteceu-me durante o doutoramento: perdi tempo e o que estive a fazer nem entrou na minha tese. É normal isso acontecer e, quando acontece, não devemos desesperar. Devemos respirar fundo e pensar “agora já sei que isto não se aplica, vamos seguir outro caminho”.
Acho que este é o grande conselho que gostaria de deixar: é preciso normalizar que nem tudo vai correr tal como previmos inicialmente. Quando estamos a criar ciência, seja qual for a área, estamos a criar conhecimento. Muitas vezes, somos os primeiros a escrever aquilo. E, por isso, não é expectável que, sendo os primeiros a escrever sobre o tema, saia tudo perfeito. Ainda assim, devemos ir atrás do que queremos, riscar, apagar e escrever de novo.
Produção e Edição de Conteúdos: Ana Bartolomeu, DCOM; Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Ana Bartolomeu, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR