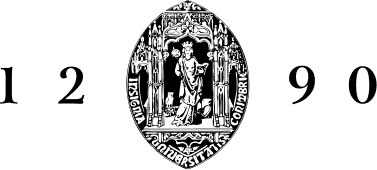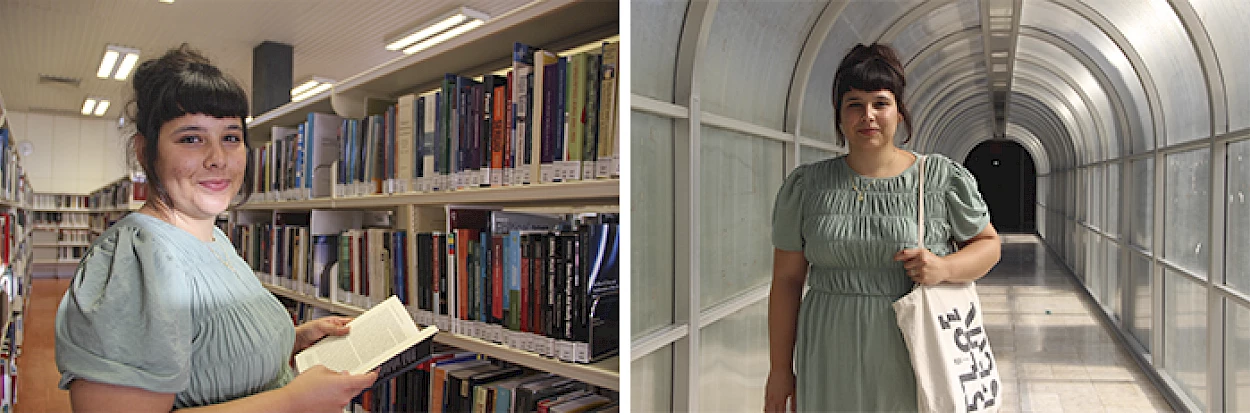Recolher histórias de vida em busca de novos entendimentos sobre as vivências das mulheres
Foi o interesse pelas pessoas que trouxe Ana Rita Brás à Sociologia. E são elas o centro do seu projeto de doutoramento. Depois da licenciatura e do mestrado nesta área, é hoje estudante do Doutoramento em Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde está a desenvolver o projeto de investigação Morte do cônjuge e redes relacionais: um estudo sobre a viuvez feminina, orientado pela professora Sílvia Portugal. Foi no seu processo de politização, que aconteceu com a sua chegada à cidade para estudar na Universidade de Coimbra, que as mulheres surgiram como um dos seus principais interesses e foi desde que se lembra que as pessoas, em geral, sempre moveram a sua curiosidade. Hoje desenha as trajetórias de vida de mulheres viúvas, e traça as suas redes de contactos, em busca de novos entendimentos sobre o impacto da morte e do luto nas suas vidas.
O meu objeto de estudo é a viuvez feminina, a partir de uma perspetiva relacional. Ou seja, passa por olhar a viuvez a partir da rede de relações sociais das mulheres viúvas. De uma forma muito resumida, esta investigação parte de duas questões: qual é o impacto da viuvez feminina nas relações sociais das mulheres viúvas e qual é o impacto das redes na vivência da viuvez. O trabalho será desenvolvido junto de mulheres com idades a partir dos 65 anos para procurar também cruzar o estudo da viuvez com a velhice, porque há uma lacuna muito grande na Sociologia, particularmente no contexto português, nos estudos da viuvez, tanto nos estudos da família como nos estudos feministas que não se dedicam tanto às mulheres idosas. Estudar a viuvez não é só estudar a viuvez, porque este é um fenómeno transformador de diversas dimensões: pessoal, económica e familiar. Por isso, ao estudar a viuvez estamos a dar visibilidade a dinâmicas da vida privada e da vida familiar que ainda são espaços de desigualdade. E, portanto, outro dos objetivos do projeto passa também por reduzir essa lacuna na produção de conhecimento, contribuindo para o estudo da viuvez no contexto português.
Tenho pensado muito sobre isso. Terminei há pouco o primeiro ano do doutoramento e durante este ano curricular trabalhámos muito a estruturação do projeto. E uma das questões que tenho colocado mais vezes é o motivo que me levou a escolher este tema. Acredito que o interesse académico está ligado também ao interesse pessoal e à trajetória de vida e, por isso, acho que há muito da nossa experiência pessoal na forma como estudamos e analisamos as coisas. Ou seja, o filtro que colocamos para olhar os objetos diz muito sobre nós, às vezes mais do que sobre o objeto.
Sempre tive um interesse geral pelos estudos sobre mulheres. E este projeto acaba por partir de um interesse em dar visibilidade às trajetórias de vida de mulheres idosas, que muitas vezes são quase invisíveis no escrutínio público e na academia. Os percursos das mulheres são percursos de desigualdade, tendo sido cuidadoras a vida toda. À minha volta, quase todas as mulheres, independentemente de serem qualificadas ou não qualificadas ou de serem de diferentes classes sociais, são cuidadoras. Reconheço também em mim esses padrões, que reproduzo, embora vá tentando desconstruir. Perante este contexto, interessa-me também entender que dinâmicas é que alimentam essa lógica da mulher cuidadora e da mulher ainda com uma trajetória muito perpassada por obrigações familiares e se a viuvez, de facto, corta com essa trajetória de cuidado e se é um período emancipatório. Neste sentido, diria que o maior interesse reside na trajetória e na família destas mulheres do que na viuvez, que foi o objeto que fui construindo para desenvolver a investigação.
Acho que a escolha está também relacionada com a forma como cheguei à Sociologia. Não sabia bem o que era a Sociologia, mas sabia que era focada nas pessoas. E eu sempre me interessei muito por pessoas, pelas histórias de vida e pelo quotidiano. E, no fundo, estudar a viuvez através deste projeto permite-me tudo isso: estudar pessoas, famílias, histórias de vida e o quotidiano que são coisas que me seduzem. Por isso, talvez a viuvez tenha sido o resultado da soma de todos estes interesses. Uma escolha que é também influenciada pelo facto de não ter sido muito estudada no contexto português.
Acho que o projeto pode contribuir para diferentes domínios porque bebe de diferentes áreas. Como disse, a viuvez é um fenómeno transformador de diversas dimensões da vida das mulheres e, por isso, as áreas em que me baseio para construir o contexto teórico e a metodologia são diversas. O projeto envolve estudos sobre mulheres, estudos da família, estudos sobre o morte e luto, estado-providência e teoria das redes e, por isso, acho que pode contribuir para todas estas áreas. Acima de tudo, visibilizar os percursos e a subjetividade na vivência da viuvez pode contribuir para um conhecimento situado e informado e, eventualmente, para a construção de políticas sociais, seja na velhice, seja no apoio à família e ao cuidado de dependentes. É um trabalho que pode contribuir para a constituição de políticas sociais mais informadas e adequadas às necessidades desta população.
A questão do contacto com as pessoas assustou e assusta-me. E há várias coisas que me continuam a assustar, porque falar sobre quem já não está cá – quer se tenha gostado muito ou não – é muito intenso. Como estou a recolher histórias de vida, faço entrevistas longas que passam por toda a trajetória da vida da pessoa, antes e depois da viuvez. Além disso, falar sobre morte e sobre o luto é algo que me assusta muito. Confesso que não lido muito bem com a morte e de repente vou estar nos próximos quatro anos a trabalhar a morte e o luto. Por outro lado, durante o mestrado já tive a experiência de trabalhar este tema e isso permitiu-me perceber que as pessoas querem falar. São assuntos sobre os quais não falaram muito e se no início do contacto há alguma resistência, o tema acaba por se desenvolver durante a conversa. Portanto, o contacto com as pessoas assusta-me, mas surpreende-me muito também, sobretudo pela forma como as pessoas abrem a porta de casa para entrarmos: entras, contam-te a vida toda, oferecem-te prendas. Estabeleces uma relação que é circunstancial, mas as pessoas dão-te tudo naquele momento. Isso surpreende-me e emociona-me muito, porque acedo à vida intima e emocional das pessoas, algumas solitárias outras nem tanto, e elas partilham sempre comigo mais do que eu vou partilhar com elas. Mesmo que eu consiga contribuir, diretamente ou indiretamente, através da produção de conhecimento ou eventualmente de políticas, acho que nunca vou conseguir devolver aquilo que estas mulheres me dão.
De uma forma resumida, optei por uma metodologia qualitativa, por um plano interpretativo. Dentro dessa metodologia, decidi fazer uma abordagem biográfica. Isto porque para perceber as mudanças e as transformações na viuvez, entendo que é preciso perceber o que aconteceu antes, todo o percurso – antes da vida conjugal, a vida conjugal, os contextos existenciais – porque cada mulher cresceu e teve um percurso diferente. E, por isso, entendo que para perceber a subjetividade das suas trajetórias é preciso ter uma abordagem biográfica que tenha em conta esta coordenada muito importante que é o tempo. Para compor esta abordagem biográfica, vou fazer entrevistas em profundidade com caráter história de vida, para perceber a trajetória de vida até à viuvez. Isto permite não apenas saber o que fazem, mas que sentido dão aos seus comportamentos e às suas práticas e representações: aquilo que pensam, aquilo que dizem e aquilo que fazem. Entendo que as entrevistas de caráter história de vida permitem aceder a esta informação. Depois, como o meu trabalho tem uma perspetiva relacional e se baseia na teoria das redes, vou reconstruir uma abordagem a uma rede egocentrada. A minha ideia passa por reconstituir as redes de relações destas mulheres, em torno de um ego, que neste caso são as mulheres viúvas. Para isso, vou tentar perceber quem é que elas conhecem, com quem é que interagem, que tipo de relações é que estabelecem com essas pessoas, que tipo de produtos e serviços trocam e a quem é que recorrem em determinadas situações. Tudo isto para perceber de que forma é que estas relações afetam ou não a viuvez e de que forma é que a morte do marido afetou o padrão dessas redes.
As questões éticas são sempre assuntos aos quais me prendo muito, nomeadamente a questão da devolução do conhecimento e a procura de ferramentas que sejam adequadas ao tema e ao objeto e, ao mesmo tempo, que sejam tão justas, democráticas e acessíveis quanto possível. Por outro lado, acho que a pandemia tornou este ano letivo mais complicado, porque o doutoramento já tem um caráter muito solitário e este ano foi ainda mais solitário. O doutoramento tem tarefas que nós temos sempre que fazer sozinhos, mesmo que tenhamos muitos amigos a trabalhar à nossa volta. Mas mesmo essas pessoas à nossa volta a pandemia afastou-as, o que foi especialmente difícil durante o primeiro ano letivo, que é o momento em que conhecemos pessoas que estão a fazer as mesmas coisas que nós e com quem podemos conversar. Este ano isso não aconteceu e senti falta dessa troca de experiências e de conhecimento. Isso teve muito impacto. Valeu-me poder contar sempre com o conhecimento, a compreensão e a solidariedade da minha orientadora, a professora Sílvia Portugal. Também não considero que o meu projeto esteja fechado, porque acho que ainda se vai construir com a entrada no trabalho de campo, que é a próxima fase. E, por isso, acho que os maiores desafios ainda estão para vir.
Nunca pensei muito a sério na investigação. Talvez tenha pensado no início do percurso no ensino superior, porque tinha uma ideia muito romantizada da investigação, mas à medida que vamos entrando na academia vamos percebendo novas dinâmicas e a romantização cai um pouco, porque é ainda um ambiente precário. Isso tirou um pouco a sedução. Por outro lado, essa sedução começou a acontecer com os temas que são trabalhados na Sociologia, como os estudos da mulher, da família e da deficiência, áreas nas quais gostaria de fazer investigação. Diria também que uma Sociologia mais aplicada também me seduz. Quando escolhi o curso, não escolhi por saber o que era a disciplina, mas acho que a Sociologia foi uma boa escolha. E agora, quando olho para aquilo que posso fazer quando terminar o doutoramento, tudo me parece bem e, por isso, não tenho pretensão de continuar só na academia e de forma fechada. Se tiver oportunidade acho que posso ficar, mas também gostaria de fazer outras coisas. Seja na academia ou fora dela gostava, sobretudo, de trabalhar de uma forma mais próxima das pessoas. Não tenho muito interesse pela ciência fechada no gabinete. Gostava de encontrar algo, no percurso, que me fosse aproximando cada vez mais das pessoas.
Acho que está relacionado com a minha trajetória. Venho de um ambiente familiar pouco politizado, onde se fala muito pouco de tudo em geral. Quando cheguei para estudar em Coimbra, acho que a minha formação se fez muito também nos circuitos fora da formação académica, não por demérito do curso, mas por mérito dos espaços que também frequentei. No Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra (GEFAC), na Rádio Universidade de Coimbra (RUC) e nas repúblicas (como a Real República do Bota-Abaixo) encontrei círculos onde se discutem, efetivamente, os temas e onde há ativismo. Politizei-me tardiamente – aos 18 anos, quando cheguei a Coimbra – e acho que foi nestes espaços que me politizei. Vinha às aulas na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra para ter um contacto mais teórico com os temas e quando chegava a casa ou aos outros espaços tinha a possibilidade de colocar em prática o que estávamos a discutir nas aulas. Acho que foi neste contexto que, de certa forma, acordei e comecei a ter mais consciência destes temas, das mulheres, das desigualdades sociais e de género, que se abordam nas unidades curriculares do doutoramento. Toda esta discussão ativa tornou mais interessante a parte académica e foi uma boa ligação.
Pegando no que referi na questão anterior, mais do que conselhos sobre metodologia ou conselhos académicos, sugiro a todas as pessoas que estejam envolvidas em cursos do ensino superior que se envolvam também em coisas fora desse âmbito. Conhecer o mundo dos vários coletivos que existem em Coimbra vai permitir trazer também para o projeto novos conhecimentos, bem como vai enriquecer a experiência pessoal, o percurso académico e a forma como olhamos os objetos de estudo. Não consigo conceber uma experiência académica sem um envolvimento no resto da cidade. Acho que o meu conselho é este: que as pessoas se envolvam ativamente nestes espaços, como os que já mencionei anteriormente.
Produção e Edição de Conteúdos: Catarina Ribeiro, DCOM e Inês Coelho, DCOM
Fotografia: Marta Costa, DCOM
Edição de Imagem: Sara Baptista, NMAR
Publicado a 30.08.2021